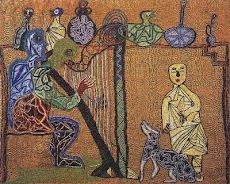O funcionamento do modo de produção capitalista não permanece idêntico desde as suas origens. Excluindo o capitalismo das manufaturas, que se estende do século XVI ao século XVIII, pode-se distinguir duas fases na história do capitalismo industrial, propriamente dito:
- a fase do capitalismo de livre concorrência, que vai da revolução industrial (mais ou menos 1760) até aos anos 80 do século passado;
- a fase do imperialismo, que se estende dos anos de 1880 até os nossos dias.
1. Da livre concorrência aos acordos capitalistas
Durante toda a sua primeira fase de existência, o capitalismo industrial era caracterizado pela existência de um grande número de empresas independentes, em cada ramo industrial. Nenhuma delas podia dominar o mercado. Cada uma procurava vender ao mais baixo preço, na esperança de assim poder escoar a sua mercadoria.
Esta situação modificou-se desde a concentração e a centralização capitalista que permitiram subsistir em uma série de ramos de indústrias em um número reduzido de empresas, produzindo em conjunto 60, 70 ou 80% da produção. Estas empresas podiam desde então entender-se para tentar dominar o mercado, ou seja, cessar de fazer baixar os preços de venda, repartindo entre si os mercados, segundo relações de forças do momento.
Semelhante declínio da livre concorrência capitalista foi facilitado por uma importante revolução tecnológica que se produziu na mesma altura: a substituição pelo motor elétrico e de explosão, do motor a vapor, como principal fonte de energia na indústria e nos principais ramos de transportes. Desenvolver-se toda uma série de indústrias novas – indústrias de eletricidade, indústria de aparelhos elétricos, indústria petrolífera, indústria de automóveis, química de síntese - que exigiram investimentos iniciais muito mais importantes do que nos antigos ramos industriais, o que reduziu à partida o número de concorrentes potenciais.
As principais formas de acordos entre capitalistas são:
a) o cartel e o sindicato, num mesmo ramo de indústria, em que cada firma participante no acordo conserva sua independência;
b) o truste e a fusão de empresas, em que esta independência desaparece no seio duma única sociedade gigante;
c) o grupo financeiro e as sociedades Holding, em que um pequeno número de capitalistas controlam numerosas empresas de vários ramos industriais que se mantêm juridicamente independentes umas das outras.
2. As concentrações bancárias e o capital financeiro
O mesmo processo de concentração e centralização do capital que se realiza no domínio da indústria e dos transportes, produz-se igualmente no domínio dos bancos. No limite desta evolução, um pequeno número de bancos gigantes domina toda a vida financeira dos países capitalistas.
O papel principal dos bancos no regime capitalista é conceder crédito às empresas. Desde que a concentração bancária atinga um estágio avançado, um pequeno número de banqueiros detém um monopólio de fato quanto à concessão de crédito. Isto leva-os a deixar de se comportarem como emprestadores passivos, que se contentam em embolsar os juros sobre os capitais adiantados enquanto aguardam o reembolso do crédito no vencimento fixado.
Com efeito, os bancos que concedem créditos às empresas de atividades idênticas ou anexas, têm um interesse máximo de assegurar a rentabilidade e a solvabilidade de todas essas empresas. Têm interesse em evitar que os lucros desçam a zero, em virtude duma concorrência cortante. Intervêm pois para acelerar – e algumas vezes impor – a concentração e centralização industriais.
Desta forma, os bancos podem tomar iniciativas de formação de grades trustes. Podem igualmente utilizar as suas posições monopolistas, no domínio do crédito, para obter, em troca dos créditos, participações no capital das grandes empresas. Assim se desenvolve o capital financeiro, que consiste na penetração do capital bancário na indústria tomando nesta uma posição predominante.
No topo da pirâmide de poder da época do capitalismo dos monopólios, surgem os grupos financeiros que controlam, a um tempo, os bancos e outras instituições financeiras (como, por exemplo, as companhias de seguros), os grandes trustes da indústria e dos transportes, os grandes armazéns, etc. Um punhado de grandes capitalistas, as famosas “sessentas famílias “ nos Estados Unidos e as “duzentas famílias” na França, têm nas suas mãos todas as alavancas do poder econômico dos países imperialistas. Na Bélgica, uma dúzia de grupos financeiros controlam o essencial da economia, a par de alguns grandes grupos estrangeiros.
Nos Estados Unidos, alguns grupos financeiros gigantes (nomeadamente os grupos Morgan, Rockfeller, du Pont, Mellon, os chamados grupos de Chigado e de Cleveland, o grupo do Bank of America, etc.) exercem um domínio muito extenso sobre toda a economia. O mesmo se passa no Japão, onde os antigos zaibatsu trustes, aparentemente desmatelados após a 2º guerra mundial, facilmente se reconstruíram. Trata-se principalmente dos grupos Mitsubishi, Mitsui, Itoh e Sumitomo.
3. Capitalismo dos monopólios e capitalismo da livre-concorrência
O surto dos monopólios não significa o desaparecimento da concorrência capitalista. E ainda menos significa que cada ramo industrial seja dominado definitivamente por uma só firma. Significa, antes de mais, que nos setores monopolizados:
a) A concorrência deixa de exercer-se normalmente pela baixa de preços.
b) Por este fato, os grandes trustes obtêm sobre-lucros monopolísticos, quer dizer, uma taxa de lucro superior à das empresas de setores não monopolizados.
Por outro lado, a concorrência prossegue:
a) No interior dos setores não monopolizados da economia, que continuam a ser numerosos.
b) Entre monopólios, de modo corrente, pelo uso de técnicas diferentes de baixa de preços de venda (pela via da redução de preço de custo, pela publicidade, etc) e, excepcionalmente, também por uma “guerra de preços”, sobretudo quando as relações de força entre os trustes modificam-se e quando se trata de ajustar a partilha dos mercados a essas novas relações de forças.
c) Entre monopólios “nacionais” no mercado mundial, essencialmente pela via normal da “guerra de preços”. Contudo, a concentração do capital pode avançar até ao ponto de, no mesmo mercado mundial, subsistirem apenas algumas firmas num ramo industrial, o que pode conduzir à criação de “cartéis internacionais” que entre si partilham esses mercados.
4. A exportação de capitais
Os monopólios não podem controlar os mercados monopolizados sem que neste limitem o crescimento da produção e, portanto, a acumulação do capital. Mas, por outro lado, esses monopólios dispõem abundantes, graças sobretudo aos sobre-lucros monopolísticos que realizam. A época imperialista do capitalismo caracteriza-se pois pelo fenômeno do excedente de capitais, nas mãos dos monopólios dos países imperialistas, que buscam novos campos de investimento. A exportação dos capitais torna-se assim traço essencial da era capitalista.
Esses capitais são exportados para países onde rendem lucro superior à média dos setores competitivos dos países imperialistas, e vão estimular produções complementares da indústria metropolitana. São utilizados, antes de mais nada, no desenvolvimento da produção de matérias-primas vegetais e minerais nos países subdesenvolvidos (da Ásia, Africa e America Latina).
Enquanto o capitalismo operou no mercado mundial unicamente no sentido de aí vender as suas mercadorias e comprar matérias-primas e víveres, não tinha interesse maior em abrir caminho pela força militar (conquanto esta fosse utilizada para abater barreiras opostas à penetração das suas mercadorias – caso das guerras do ópio, desencadeadas pela Grã-Bretanha para obrigar o Império chinês a levantar as interdições que afetavam a importação do ópio proveniente da Índia britânica). Mas esta situação modificou-se desde que a exportação de capitais começou a tomar um lugar preponderante nas operações internacionais do capital.
Ao passo que uma mercadoria vendida deve ser paga pelo máximo no espaço de alguns meses, os capitais investidos num país só ao fim de longos anos são amortizados. Por isso, as potências imperialistas passam a ter um interesse máximo em estabelecer um controle permanente sobre os países onde investiram os seus capitais. Este controle pode ser indireto – através de governos a soldo do extrangeiro, no caso de Estados formalmente independentes, como os países semicoloniais. Ou pode ser direto - através de uma administração diretamente dependente da metrópole, como nos países coloniais. A era imperialista assinala-se, pois, por uma tendência para a partilha do mundo em impérios coloniais e em zonas de influências das grandes potências imperialistas.
Esta partilha realizou-se em dado período (sobretudo o de 1880-1900), em função das relações de força existentes nesse período: hegemonia da Grã-Bretanha, força importante dos imperialismos francês, holandês e belga; fraqueza relativa das “jovens” potências imperialistas: Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão.
As guerras imperialistas em série vão ser o meio pelo qual as potências imperialistas “jovens” se esforçarão por utilizar a alteração das relações de força para modificar a partilha do mundo em seu favor: guerra russo-japonesa, 1º guerra mundial, 2º guerra mundial.
São guerras conduzidas com fins de rapina, visando áreas de investimento de capitais, fontes de matérias-primas, mercado de escoamento privilegiados, e não guerras por um ideal político (“a favor ou contra a democracia”, a favor ou contra as autocracias, a favor ou contra o fascismo). O mesmo comentário se aplica às guerras de conquista colonial que balizam a era imperialista (no século XX, sobretudo a guerra ítala-turca, a guerra sino-japonesa, a guerra da Itália contra a Abissínia) ou as guerras colonialistas contra o movimento de libertação dos povos (guerra da Argélia, guerra do Vietnam, etc), nas quais uma das partes prossegue fins de rapina mas em que o povo semicolonial ou colonial defende uma justa causa, procurando escapar à escravatura imperialista.
5. Países imperialistas e países dependentes
Assim, a era imperialista não mostra apenas o estabelecimento do controle de um punhado de magnatas da finança e da indústria sobre as nações metropolitanas. Caracteriza-se também pelo estabelecimento do controle da burguesia imperialista de um punhado de países sobre os povos dos países coloniais. Os seus capitais investidos nesses países obtêm sobre-lucros coloniais, que são repatriados para a metrópole. A divisão mundial do trabalho, assenta na troca de produtos manufaturados metropolitanos por matérias-primas provindas das colônias, conduz a uma troca desigual. na qual os países pobres trocam quantidades de trabalho mais reduzidas (porque mais intensivo) dos países metropolitanos. A administração colonial é paga por impostos arrancados aos povos colonizados, parte significativa dos quais é igualmente repatriada.
Todos estes recursos extraídos dos países dependentes fazem falta quando se pretende financiar o seu crescimento econômico. O imperialismo é assim uma das principais causas do subdesenvolvimento do hemisfério meridional.
6. A era do capitalismo tardio
A era imperialista pode por sua vez, ser subdividida em duas fases: a era do imperialismo “clássico”, que recobre o período anterior à 1ª guerra mundial bem como o período de entre as duas guerras; e a era do capitalismo tardio, que começa com a 2ª guerra mundial ou com o fim desta.
Nesta era do capitalismo tardio, a concentração e a centralização do capital estende-se cada vez mais à escala internacional. A passo que o truste monopolístico nacional era a “cédula de base” da era imperialista clássica, a sociedade multinacional é a “célula de base” da era do capitalismo tardio. Mas, ao mesmo tempo, a era do capitalismo tardio caracteriza-se por uma aceleração da inovação tecnológica, pelo encurtamento dos períodos de amortização do capital investido em máquinas, pela obrigação, para as grandes firmas, de calcular e planificar de modo mais exato os seus custos e os seus investimentos, e pela tendência à programação econômica do Estado, como conseqüencia natural desta caracterização.
A intervenção econômica do Estado avoluma-se também pela obrigação em que se encontra a burguesia, de reativar, como a ajuda do Estado, os setores industriais tornados cronicamente deficitários; de assegurar pelo Estado uma garantia dos lucros dos grandes monopólios, concedendo a estes encomendas do Estado (sobretudo, mas não só, encomendas militares) bem como subvenções, subsídios, etc.
Esta internacionalização crescente da produção, por um lado, e esta intervenção crescente do Estado nacional na vida econômica, por outro lado, provocam uma série de novas contradições na era do capitalismo tardio, de que a crise do sistema monetário mundial, alimentada pela inflação permanente, é uma das principais expressões.
A era do capitalismo tardio caracteriza-se também pela desintegração generalizada dos impérios coloniais, pela transformação dos países coloniais em semicoloniais, pela reorientação das exportações de capitais, que passam agora primacialmente, de um a outro país imperialista e não dos países metropolitanos para os países coloniais, e por um início de industrialização (sobretudo localizada na esfera dos bens de consumo), nos países semicoloniais. Esta industrialização é não só uma tentativa de a burguesia para travar a revolta popular, mas também um resultado do fato que as exportações de máquinas e bens de equipamento constituem hoje a maior parte das exportações dos próprios países imperialistas.
Nem as transformações ocorridas no funcionamento da economia capitalista, mesmo no interior dos países imperialistas, nem as que respeitam à economia dos países semicoloniais, bem como o funcionamento de conjunto do sistema capitalista, permitem pois pôr em causa a conclusão a que Lenine chegou há mais de meio século quando ao significado histórico do conjunto da época imperialista. Esta época é a de agudização de todas as contradições inerentes ao sistema: contradições entre o Capital e o Trabalho, entre os países imperialistas e os países colonizados, bem como contradições inter-imperialistas. É uma época sob o signo de conflitos violentos de guerras imperialistas, de guerras de libertação nacional, de guerras civis. É a época das revoluções e contra-revoluções cada vez mais explosivas, e não a época de um tranqüilo e pacífico progresso da civilização.
Com mais forte razão se deve recusar os mitos segundo os quais a atual economia ocidental já não seria uma economia capitalista propriamente dita a recessão generalizada da economia capitalista internacional em 1974-75 deu um golpe mortal na tese segundo a qual estariamos vivendo numa pretensa “economia mista”, em que a regulação da vida econômica pelos poderes públicos permitiria assegurar de maneira ininterrupta o crescimento econômico, o pleno emprego e a extensão do bem-estar a todos. A realidade demonstra uma vez mais que os imperativos do lucro privado continuam a reger esta economia, provocam periodicamente o desemprego maciço e a sobre-produção, continuando pois sempre a tratar-se de uma economia capitalista.
Do mesmo modo, a tese segundo a qual já não seriam os grupos capitalistas mais poderosos, mas os gestores, os burocratas, ou mesmo os tecnocratas e os sábios quem dirigiria a sociedade ocidental, não tem fundamento sem qualquer prova científica séria. Muitos destes “senhores” da sociedade viram-se atirados para a rua no decurso das duas recentes recessões. A delegação de poderes que o grande capital aceita e aperfeiçoa no seio das sociedades gigantes que controla, é extensiva à maioria das suas prerrogativas, exceto quanto ao essencial: as decisões de última instância sobre as formas e orientações fundamentais de valorização do capital e de acumulação do capital, ou seja, tudo o que toca ao “santo dos santos”: a prioridade do lucro dos monopólios, à qual pode ser sacrificada a distribuição de dividendos aos acionistas. Aqueles que na referida tese julgaram ver uma prova de que a propriedade privada já não conta quase nada, esquecem a tendência, predominante desde o início do capitalismo, a sacrificar a propriedade privada dos pequenos à de um punhado de grandes.
Bibliografia
Lenine – O imperialismo, estágio supremo do capitalismo.
R. Hilferding – O capital financeiro.
E. Mandel – Tratado de economia marxista (caps. 12-14).
Pierre Jalée – O imperialismo em 1970.
Pierre Salama – O processo de subdesenvovimento.