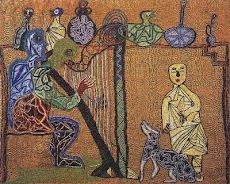1
Quem quiser expor numa conferência, ainda que dentro de certos limites, ao menos os princípios mais gerais desse complexo de problemas, vai se encontrar diante de uma dupla dificuldade. Por um lado, seria necessário fornecer um panorama crítico do estágio atual da discussão sobre esse problema, e, por outro, caberia iluminar o edifício conceptual de uma nova ontologia, pelo menos em sua estrutura fundamental. Para tratarmos de modo mais ou menos satisfatório da segunda questão, teremos de renunciar a abordar - mesmo que sumariamente - a primeira. Todos sabem que nas últimas décadas, radicalizando as velhas tendências gnosiológicas, o neopositivismo dominou de modo incontrastado, com sua recusa de princípio em face de toda e qualquer colocação ontológica, considerada como não científica. E esse domínio se deu não apenas na vida filosófica propriamente dita, mas também no mundo da praxis. Se analisássemos bem as constantes teóricas dos grupos dirigentes políticos, militares e econômicos de nosso tempo, descobriríamos que elas - consciente ou inconscientemente - são determinadas por métodos de pensamento neopositivistas. Deriva disso a onipotência quase ilimitada desses métodos; e, quando o confronto com a realidade tiver conduzido à crise aberta, essa situação produzirá grandes abalos a partir da vida políticoeconômica até a filosofia no sentido mais amplo do termo. Mas, já que estamos apenas no início de tal processo, é suficiente aqui a sua simples menção.
Tampouco nos ocuparemos, neste local, das tentativas ontológicas das últimas décadas. Limitar-nos-emos a declarar simplesmente que as consideramos como extremamente problemáticas, bastando-nos recordar os últimos desenvolvimentos de um conhecidíssimo iniciador dessa corrente, como Sartre, para que fiquem registradas, quando menos, tal problemática e tal orientação.
Reveladora é, nesse caso, a relação com o marxismo. Na história da filosofia, como se sabe, raramente o marxismo foi entendido como uma ontologia. Em troca, o que aqui nos propomos fazer é mostrar como o elemento filosoficamente resolutivo na ação de Marx consistiu em ter esboçado os lineamentos de uma ontologia histórico-materialista, superando teórica e praticamente o idealismo lógico-ontológico de Hegel. Hegel foi um preparador nesse domínio, na medida em que concebeu a seu modo a ontologia como uma história; em contraste com a ontologia religiosa, a de Hegel partia de "baixo", do aspecto mais simples, e traçava uma história evolutiva necessária que chegava ao "alto", às objetivações mais complexas da cultura humana. Naturalmente, o acento caía sobre o ser social e seus produtos, assim como era característico de Hegel o fato de que o homem aparecesse como criador de si mesmo.
A ontologia marxiana afasta daquela de Hegel todo elemento lógico dedutivo e, no plano da evolução histórica, todo elemento teleológico. Com esse ato materialista de "repor sobre os próprios pés", não podia deixar de desaparecer igualmente - da série das momentos motores do processo - a síntese do elemento simples: Em Marx, o ponto de partida não é dado nem pelo átomo (como nos velhos materialistas), nem pelo simples ser abstrato (como em Hegel). Aqui, no plano ontológico, não existe nada análogo. Todo existente deve ser sempre objetivo, ou seja, deve ser sempre parte (movente e movida) de um complexo concreto: Isso conduz a duas conseqüências fundamentais. Em primeiro lugar, o ser em seu conjunto é visto como um processo histórico; em segundo, as categorias não são tidas como enunciados sobre algo que é ou que se torna, mas sim como formas moventes e movidas da própria matéria: "formas do existir, determinações da existência". Essa posição radical também na medida em que é radicalmente diversa do velho materialismo - foi interpretada, de diferentes modos, segundo o velho espírito; quando isso ocorreu, teve-se a falsa idéia de que Marx subestimava a importância da consciência com relação ao ser material. Demonstraremos mais tarde, concretamente, que esse modo de ver é equivocado. Aqui nos interessa apenas estabelecer que Marx entendia a consciência como um produto tardio do desenvolvimento do ser material. Aquela impressão equivocada só pode surgir quando tal fato é interpretado à luz da criação divina afirmada pelas religiões ou de um idealismo de tipo platônico. Para uma filosofia evolutiva materialista, ao contrário, o produto tardio não é jamais necessariamente um produto de menor valor ontológico. Quando se diz que a consciência reflete a realidade e, sabre essa base, torna possível intervir nessa realidade para modificá-la, quer-se dizer que a consciência tem um real poder no plano do ser e não - como se supõe a partir das supracitadas visões irrealistas - que ela é carente de força.
2
Podemos aqui nos ocupar somente da ontologia da ser social. Contudo, não seremos capazes de captar sua especificidade se não compreendermos que um ser social só pode surgir e se desenvolver sobre a base de um ser orgânico e que esse último pode fazer o mesmo apenas sabre a base do ser inorgânico. A ciência já está descobrindo as formas preparatórias de passagem de um tipo de ser á outro; e também já foram esclarecidas as mais importantes categorias fundamentais das formas de ser mais complexas, enquanto contrapostas àquelas mais simples: a reprodução da vida em contraposição ao simples tornar-se outra coisa; a adaptação ativa, com a modificação consciente do ambiente, em contraposição à adaptação meramente passiva etc. Ademais, tornou-se claro que, entre uma forma mais simples de ser (por mais numerosas que sejam as categorias de transição que essa forma produz) e o nascimento real de uma forma ,mais complexa, verifica-se sempre um salto; essa forma mais complexa é algo qualitativamente novo, cuja gênese não pode jamais ser simplesmente "deduzida" da forma mais simples.
Depois.desse salto, tem sempre lugar o aperfeiçoamento da nova forma de ser. Todavia, embora surja sempre algo qualitativamente novo, em muitos casos tem-se a impressão de estar em face de uma simples variação dos modos reativos do ser fundante em novas categorias de efetividade, naquelas categorias que constituem precisamente o novo no ser da nova formação.
Tomemos o exemplo da luz: enquanto sobre as plantas ela ainda atua de modo puramente físico-químico (embora, na verdade, dando lugar já aqui a efeitos vitais específicos), na vista dos animais superiores a luz desenvolve formas de reação ao ambiente que já são especificamente biológicas. Do mesmo modo, o processo de reprodução assume na natureza orgânica formas cada vez mais correspondentes à sua própria essência, torna-se cada vez mais nitidamente um ser sui generis, ainda que jamais possa ser eliminado o seu enraizamento nas bases ontológicas originárias. Mesmo sem ter aqui a possibilidade sequer de mencionar um tal complexo de problemas, gostaríamos porém de recordar como o desenvolvimento do processo de reprodução orgânica no sentido de formas superiores, o seu tornar-se cada vez mais pura e expressamente biológico no sentido próprio do termo, forma - com a ajuda das percepções sensíveis - também uma espécie de consciência, importante epifenômeno, enquanto órgão superior do funcionamento eficaz dessa reprodução.
Para que possa nascer o trabalho, enquanto base dinâmico-estruturante de um novo tipo de ser, é indispensável um determinado grau de desenvolvimento do processo de reprodução orgânica. Também aqui teremos de deixar de lado os numerosos casos de capacidade de trabalhar que se mantêm como pura capacidade; tampouco podemos nos deter nas situações de beco sem saída, nas quais surge não apenas um certo tipo de trabalho, mas inclusive a conseqüência necessária do seu desenvolvimento, a divisão do trabalho (abelha etc.), situações porém em que essa divisão do trabalho - enquanto se fixa como diferenciação biológica dos exemplares da espécie - não consegue se tornar princípio de desenvolvimento posterior no sentido de um ser de novo tipo, mantendo-se ao contrário como estágio estabilizado, ou seja, como um beco sem saída no desenvolvimento.
A essência do trabalho consiste precisamente em ir além dessa fixação dos seres vivos na competição biológica com seu mundo ambiente. O momento essencialmente separatório é constituído não pela fabricação de produtos, mas pelo papel da consciência, a qual, precisamente aqui, deixa de ser mero epifenômeno da reprodução biológica: o produto, diz Marx, é um resultado que no início do processo existia "já na representação do trabalhador", isto é, de modo ideal.
Talvez surpreenda o fato de que, exatamente na delimitação materialista entre o ser da natureza orgânica e o ser social, seja atribuído à consciência um papel tão decisivo. Porém, não se deve esquecer que os complexos problemáticos aqui emergentes (cujo tipo mais alto é o da liberdade e da necessidade) só conseguem adquirir um verdadeiro sentido quando se atribui - e precisamente no plano ontológico - um papel ativo à consciência. Nos casos em que a consciência não se tornou um poder ontológico efetivo, essa oposição jamais pôde ter lugar. Em troca, quando a consciência possui objetivamente esse papel, ela não pode deixar de ter um peso na solução de tais oposições.
Com justa razão se pode designar o homem que trabalha, ou seja, o animal tornado homem através do trabalho, como um ser que dá respostas. Com efeito, é inegável que toda atividade laborativa surge como solução de resposta ao carecimento que a provoca. Todavia, o núcleo da questão se perderia caso se tomasse aqui como pressuposto uma relação imediata. Ao contrário, o homem torna-se um ser que dá respostas precisamente na medida em que - paralelamente ao desenvolvimento social e em proporção crescente - ele generaliza, transformando em perguntas seus próprios carecimentos e suas possibilidades de satisfazê-los; e quando, em sua resposta ao carecimento que a provoca, funda e enriquece a própria atividade com tais mediações, freqüentemente bastante articuladas. De modo que não apenas a resposta, mas também a pergunta é um produto imediato da consciência que guia a atividade; todavia, isso não anula o fato de que o ato de responder é o elemento ontologicamente primário nesse complexo dinâmico. Tão-somente o carecimento material, enquanto motor do processo de reprodução individual ou social, põe efetivamente em movimento o complexo do trabalho; e todas as mediações existem ontologicamente apenas em função da sua satisfação. O que não desmente o fato de que tal satisfação só possa ter lugar com a ajuda de uma cadeia de mediações, as quais transformam ininterruptamente tanto a natureza que circunda a sociedade, quanto os homens que nela atuam, as suas relações recíprocas etc.; e isso porque elas tornam praticamente eficientes forças, relações, qualidades etc., da natureza que, de outro modo, não poderiam exercer essa ação, ao mesmo tempo em que o homem liberando e dominando essas forças - põe em ser um processo de desenvolvimento das próprias capacidades no sentido de níveis mais altos.
Com o trabalho, portanto, dá-se ao mesmo tempo - ontologicamente - a possibilidade do seu desenvolvimento superior, do desenvolvimento dos homens que trabalham. Já por esse motivo, mas antes de mais nada porque se altera a adaptação passiva, meramente reativa, do processo de reprodução ao mundo circundante, porque esse mundo circundante é transformado de maneira consciente e ativa, o trabalho torna-se não simplesmente um fato no qual se expressa a nova peculiaridade do ser social, mas, ao contrário - precisamente no plano ontológico -, converte-se no modelo da nova forma do ser em seu conjunto.
Quanto maior for a precisão com que observarmos o seu funcionamento, tanto mais resultará evidente esse seu caráter. O trabalho é formado por posições teleológicas que, em cada oportunidade, põem em funcionamento séries causais. Basta essa simples constatação para eliminar preconceitos ontológicos milenares. Ao contrário da causalidade, que representa a lei espontânea na qual todos os movimentos de todas as formas de ser encontram a sua expressão geral, a teleologia é um modo de pôr - posição sempre realizada por uma consciência - que, embora guiando-as em determinada direção, pode movimentar apenas séries causais. As filosofias anteriores, não reconhecendo a posição teleológica como particularidade do ser social, eram obrigadas a inventar, por um lado, um sujeito transcendente, e, por outro, uma natureza especial onde as correlações atuavam de modo teleológico, com a finalidade de atribuir à natureza e à sociedade tendências de desenvolvimento de tipo teleológico. Decisivo aqui é compreender que se está em face de uma duplicidade: numa sociedade tornada realmente social, a maior parte das atividades cujo conjunto põe a totalidade em movimento e certamente de origem teleológica, mas a sua existência real - e não importa se permaneceu isolada ou se foi inserida num contexto - é feita de conexões causais que jamais s em nenhum sentido podem ser de caráter teleológico.
Toda praxis social, se considerarmos o trabalho como seu modelo, contém em si esse caráter contraditório. Por um lado, a praxis é uma decisão entre alternativas, já que todo indivíduo singular, sempre que faz algo, deve decidir se o faz ou não. Todo ato social, portanto, surge de uma decisão entre alternativas acerca de posições teleológicas futuras. A necessidade social só se pode afirmar por meio da pressão que exerce sobre os indivíduos (freqüentemente de maneira anônima), a fim de que as decisões deles tenham uma determinada orientação. Marx delineia corretamente essa condição, dizendo que os homens são impelidos pelas circunstâncias a agir de determinado modo "sob pena de se arruinarem". Eles devem, em última análise, realizar .por si as próprias ações, ainda que freqüentemente atuem contra sua própria convicção.
Dessa ineliminável condição do homem que vive em sociedade, podemos fazer derivar todos os problemas reais - naturalmente levando em conta que esses são mais complicados em situações mais complicadas - daquele complexo que costumamos chamar de liberdade. Sem ir além da região do trabalho em sentido estrito, podemos nos deter sobre as categorias de valor e de dever-ser. A natureza não conhece nenhuma das duas categorias. Na natureza inorgânica, as mudanças de um modo de ser para outro não têm, é claro, nada a ver com os valores. Na natureza orgânica, onde o processo de reprodução significa ontologicamente adaptação ao ambiente, pode-se já falar de êxito ou de fracasso; mas também essa oposição não ultrapassa - precisamente do ponto de vista ontológico - os limites de um mero ser-de-outro-modo. Completamente diversa é a situação quando nos deparamos com o trabalho. O conhecimento em geral distingue bastante nitidamente entre o ser-em-si, objetivamente existente, dos objetos, por um lado, e, por outro, o ser-para-nós, meramente pensado, que tais objetos adquirem no processo cognoscitivo. No trabalho, ao contrário, o ser-para-nós do produto torna-se uma sua propriedade objetiva realmente existente: e tratase precisamente daquela propriedade em virtude da qual o produto, se posto e realizado corretamente, pode desempenhar suas funções sociais. Assim, portanto, o produto do trabalho tem um valor (no caso de fracasso, é carente de valor, é um desvalor). Apenas a objetivação real do ser-para-nós faz com que possam realmente nascer valores. E o fato de que os valores, nos níveis mais altos da sociedade, assumam formas mais espirituais, esse fato não elimina o significado básico dessa gênese ontológica.
Um processo similar ocorre com o dever-ser. O conteúdo do dever-ser é um comportamento do homem determinado por finalidades sociais (e não por inclinações simplesmente naturais ou espontaneamente humanas). Ora, essencial ao trabalho é que nele não apenas todos os movimentas, mas também os homens que o realizam, devem ser dirigidos por finalidades determinadas previamente. Portanto, todo movimento é submetido a um deverser.
Também aqui não surge nada de novo, no que se refere aos elementos ontologicamente importantes, quando essa estrutura dinâmica se transfere para campos de ação puramente espirituais. Ao contrário, os anéis da cadeia ontológica, que do comportamento inicial levam até os subseqüentes comportamentos mais espirituais, aparecem em toda a sua clareza, diferentemente do ~que ocorre no caso dos métodos gnosiológico-lógicos, onde o caminho que leva das formas mais elevadas àquelas iniciais resulta invisível, ou, melhor dizendo, onde as segundas aparecem - do ponto de vista das primeiras - inclusive como oposições.
Se agora, partindo do sujeito que põe, lançamos um olhar sobre o processo global do trabalho, notamos imediatamente que esse sujeito realiza certamente a posição teleológica de modo consciente, mas sem jamais estar em condições de ver todos os condicionamentos da própria atividade, para não falarmos de todas as suas conseqüências. É óbvio que isso não impede que os homens atuem. De fato, existem inúmeras situações nas quais, sob pena de se arruinar, é absolutamente necessário que o homem aja embora tenha clara consciência de não poder conhecer senão uma parte mínima das circunstâncias. E, no próprio trabalho, o homem muitas vezes .sabe que pode dominar apenas uma pequena faixa de elementos circunstantes; mas sabe também - já que o carecimento urge e, mesmo nessas condições, o trabalho promete satisfazê-lo - que ele, de qualquer modo, é capaz de realizá-lo.
Essa ineliminável situação tem duas importantes conseqüências. Em primeiro lugar, a dialética interna do constante aperfeiçoamento do trabalho; isso se expressa no fato de que, enquanto o trabalho é realizado, seus resultados são observados etc., cresce continuamente a faixa de determinações que se tornam cognoscíveis e, por conseguinte, o trabalho se torna cada vez mais variado, abarca campos cada vez maiores, sobe de nível tanto em extensão quanto em intensidade. Na medida, porém, em que esse processo de aperfeiçoamento não pode eliminar o fato de fundo, ou seja, a incognoscibilidade do conjunto das circunstâncias, esse modo de ser do trabalho - paralelamente ao seu crescimento - desperta também a sensação íntima de uma realidade transcendente, cujos poderes desconhecidos o homem tenta de algum modo utilizar em seu próprio proveito. Não é aqui o local para uma análise detalhada das diversas formas de prática mágica, de fé religiosa etc., ~que se desenvolvem a partir dessa situação. Todavia, embora essa seja apenas, como é óbvio, uma das fontes de tais formas ideológicas, não podíamos deixar de mencioná-la. Em especial porque o trabalho é não apenas o modelo objetivamente ontológico de toda praxis humana, mas também - nos casos aqui mencionados - o modelo direto que serve de exemplo à criação divina da realidade, onde todas as coisas aparecem como produzidas teleologicamente por um criador onisciente.
O trabalho é um ato de pôr consciente e, portanto, pressupõe um conhecimento concreto, ainda que jamais perfeito, de determinadas finalidades e de determinados meios. Vimos que o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do trabalho é uma de suas características ontológicas; disso resulta que, ao se constituir, o trabalho chama à vida. produtos sociais de ordem mais elevada.
Talvez a mais importante dessas diferenciações seja a crescente autonomização das atividades preparatórias, ou seja, a separação - sempre relativa - que, no próprio trabalho concreto, tem lugar entre o conhecimento, por um lado, e, por outro, as finalidades e os meios. A matemática, a geometria, a física, a química etc., eram originariamente partes, momentos desse processo preparatório do trabalho. Pouco a pouco, elas cresceram até se tornarem campos autônomos de conhecimento, sem porém perderem inteiramente essa respectiva função originária. Quanto mais universais e autônomas se tornam essas ciências, tanto mais universal e perfeito torna-se por sua vez o trabalho; quanto mais elas crescem, se intensificam etc., tanto maior se torna a influência dos conhecimentos assim obtidos sobre as finalidades e os meios de efetivação do trabalho. Uma tal diferenciação é já uma forma relativamente aperfeiçoada de divisão do trabalho. Essa divisão, todavia, é a conseqüência mais elementar do desenvolvimento do próprio trabalho. Mesmo antes que o trabalho houvesse atingido sua explicitação plena e intensivas - digamos, mesmo no período da apropriação dos produtos naturais -, esse fenômeno da divisão do trabalho já se manifesta na caça. Digna de nota, para nós, é aqui a manifestação de uma nova forma de posição teleológica; ou seja, aqui não se trata de elaborar um fragmento da natureza de acordo com finalidades humanas, mas ao contrário um homem (ou vários homens) é induzido a realizar algumas posições teleológicas segundo um modo pré-determinado. Já que um determinado trabalho (por mais que ,possa ser diferenciada a divisão do trabalho que o caracteriza) pode ter apenas uma única finalidade principal unitária, torna-se necessário encontrar meios que garantam essa unitariedade finalística na preparação e na execução do trabalho. Por isso, essas novas posições teleológicas devem entrar em ação no mesmo momento em que surge a divisão do trabalho; e continuam a ser, mesmo posteriormente, um meio indispensável em todo trabalho que se funda sobre a divisão do trabalho. Com a diferenciação social de nível superior, com o nascimento das classes sociais com interesses antagônicos, esse tipo de posição teleológica torna-se a base espiritual-estruturante do que o marxismo chama de ideologia. Ou seja: nos conflitos suscitados pelas contradições das modalidades de produção mais desenvolvidas, a ideologia produz as formas através das quais os homens tornam-se conscientes desses conflitos e neles se inserem mediante a luta.
Esses conflitos envolvem de modo cada vez mais profundo a totalidade da vida social. Partindo dos contrastes privados e resolvidos de modo diretamente .privado no trabalho individual e na vida cotidiana, eles chegam até aqueles graves complexos problemáticos que a humanidade vem se esforçando até hoje para resolver, através da luta, em suas grandes reviravoltas sociais. O tipo estrutura de fundo, porém, revela sempre traços essenciais comuns: assim como, no próprio trabalho, o saber real sobre os processos naturais que em cada oportunidade se põem em questão, foi inevitável para poder desenvolver com êxito o intercâmbio orgânico da sociedade com a natureza, do mesmo modo um certo saber sobre o modo pelo qual os homens são feitos, sobre as suas recíprocas relações sociais e pessoais, é aqui indispensável para induzi-los a efetuar as posições teleológicas desejadas. Todo o processo através do qual, a partir dessas concepções surgidas por necessidade vital, que no início assumiram as formas do costume, da tradição, dos hábitos e também do mito, desenvolveram-se subseqüentemente procedimentos racionalizantes, aliás até mesmo algumas ciências, esse processo é - nas palavras de Fontane - um campo imenso.
Portanto, não é possível abordá-lo numa conferência. Podemos apenas afirmar que os conhecimentos que influenciam o intercâmbio orgânico com a natureza são muito mais facilmente desvinculáveis das posições teleológicas que condicionaram o seu aparecimento do que os conhecimentos dirigidos no sentido de influenciar os homens e os grupos humanos. Nesse último caso, a relação entre finalidade e fundamentação cognoscitiva é muito mais íntima. Essa afirmação, contudo, não nos deve induzir ao exagero gnosiológico, a identificar ou diferenciar de modo absoluto os dois processos. Trata-se de elementos ontológicos comuns ou diversos, que estão simultaneamente presentes e que podem encontrar solução tão-somente numa concreta dialética histórico-social.
Foi-nos possível, nesse local, mencionar apenas a base sócioontológica. Todo evento social decorre de posições teleológicas individuais;mas, em si, é de caráter puramente causal. A gênese teleológica, todavia, tem naturalmente importantes conseqüências para todos os processos sociais. Por um lado, podem chegar à condição de ser determinados objetos, com tudo o que disso decorre, que não poderiam ser produzidos pela natureza; basta pensar, para continuar ainda no campo dos primitivos, no exemplo da roda. Por outro lado, toda sociedade se desenvolve até níveis onde a necessidade deixa de operar de maneira mecânico-espontânea; o modo de manifestação típico da necessidade passa a ser, cada vez mais nitidamente e a depender do caso concreto, aquele de induzir, impelir, coagir etc., os homens a tomarem determinadas decisões teleológicas, ou então de impedir que eles o façam. O processo global da sociedade é um processo causal, que possui suas próprias normatividades, mas não é jamais objetivamente dirigido para a realização de finalidades. Mesmo quando alguns homens ou grupos de homens conseguem realizar suas finalidades, os resultados produzem, via de regra, algo que é inteiramente diverso daquilo que se havia pretendido. (Basta pensar no modo pelo qual o desenvolvimento das forças produtivas, na Antiguidade, destruiu as bases da sociedade; ou no modo pelo qual, num determinado estágio do capitalismo, esse mesmo desenvolvimento provocou crises econômicas periódicas etc.) Essa discrepância interior entre as posições teleológicas e os seus efeitos causais aumenta com o crescimento das sociedades, com a intensificação da participação sócio-humana em tais sociedades. Naturalmente, também isso deve ser entendido em sua contraditoriedade concreta. Certos grandes eventos econômicos (como, por exemplo, a crise de 1929) podem se apresentar sob a aparência de irresistíveis catástrofes naturais. A história mostra, porém, que precisamente nas reviravoltas mais significativas - basta pensar nas grandes revoluções - foi bastante importante o que Lênin costumava chamar de fator subjetivo. É verdade que a diferença entre a finalidade e seus efeitos se expressa como preponderância de fato dos elementos e tendências materiais no processo de reprodução da sociedade. Isso não significa, todavia, que esse processo consiga afirmar-se sempre de modo necessário, sem ser abalado por nenhuma resistência. O fator subjetivo, resultante da reação humana a tais tendências de movimento, conserva-se sempre, em muitos campos, como um fator por vezes modificador e, por vezes, até mesmo decisivo.
3
Tentamos mostrar como as categorias fundamentais e suas conexões no ser social já estão dadas no trabalho. Os limites dessa conferência não nos permitem seguir, ainda que só de modo indicativo, a ascenção gradual do trabalho até a totalidade da sociedade. (Por exemplo: não ,podemos nos deter sobre transições importantes como a do valor-de-uso ao valor-de-troca, desse último ao dinheiro, etc.) Por isso, os ouvintes - a fim de que eu possa quando menos me referir à importância que os elementos até aqui esboçados têm para o conjunto da sociedade, para seu desenvolvimento, para suas perspectivas - devem permitir que eu passe por alto de zonas de intermediação concretamente bastante importantes, com o objetivo de esclarecer assim um pouco mais amplamente, pelo menos, o vínculo mais geral desse início genético da sociedade e da história com o seu próprio desenvolvimento.
Antes de mais nada, trata-se de ver em que consiste aquela necessidade econômica que amigos e inimigos de Marx, analisando com escassa compreensão o conjunto da sua obra, costumam exaltar ou denegrir. Cabe sublinhar, de imediato, uma coisa óbvia: não se trata de um processo de necessidade natural, embora o próprio Marx em polêmica contra o idealismo - tenha algumas vezes usado essa expressão. À razão ontológico fundamental - causalidade posta em movimento por decisões teleológicas alternativas -, já fizemos referência. Desse fato decorre o seguinte: que nossos conhecimentos positivos a respeito devem, quanto aos aspectos concretamente essenciais, ter um caráter post festum. Decerto, algumas tendências gerais são visíveis; mas, concretameute, elas se traduzem na prática de modo bastante desigual, razão por que tão-só num segundo momento é que conseguimos saber qual é o seu caráter concreto. Na maioria dos casos, apenas os modos de realização dos produtos sociais mais diferenciados, mais complexos, é que mostram claramente qual foi na realidade a orientação evolutiva de um período de transformação. Portanto, tais tendências só podem ser apreendidas de modo preciso num segundo momento; da mesma maneira, os julgamentos, aspirações, previsões etc., sociais ~que se formaram no entretempo - e que não são de modo algum indiferentes em face da explicitação das próprias tendências - só são confirmados ou refutados numa etapa posterior.
No desenvolvimento econômico ocorrido até hoje, podemos notar a presença de três orientações evolutivas desse tipo, as quais se realizaram de modo evidente, ainda que freqüentemente desigual, mas de qualquer modo independentemente da vontade e do saber que serviram de fundamento às posições teleológicas.
Em primeiro lugar, há uma tendência constante no sentido de diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução dos homens. Trata-se de uma tendência geral, que hoje já ninguém contesta.
Em segundo lugar, esse processo de reprodução tornou-se cada vez mais nitidamente social. Quando Marx se refere a um constante "recuo dos limites naturais", pretende indicar, por um lado, que a vida humana (e portanto social) jamais pode desvincular-se inteiramente da sua base em processos naturais; e, .por outro, que - tanto no plano quantitativo quanto no qualitativo - diminui constantemente o papel do elemento puramente natural, quer na produção quer nos produtos; ou, em outras palavras, todos os momentos decisivos da reprodução humana (basta pensar em aspectos naturais como a nutrição ou a sexualidade) acolhem em si, com intensidade cada vez maior, momentos sociais, pelos quais são constante e essencialmente transformados.
Em terceiro lugar, o desenvolvimento econômico cria ligações quantitativas e qualitativas cada vez mais intensas entre as sociedades singulares originariamente pequenas e autônomas, as quais no início - de modo objetivo e real - compunham o gênero humano. O predomínio econômico do mercado mundial, que hoje se afirma cada vez mais fortemente, mostra que a humanidade já se unificou, pelo menos no sentido econômico geral. É verdade que tal unificação existe apenas como ser e ativação de princípios econômicos reais de unidade. Ela se realiza concretamente num mundo onde essa integração abre para a vida dos homens e dos povos os mais graves E ásperos conflitos (por exemplo: a questão dos negros nos Estados Unidos).
Em todos esses casos, estamos diante de tendências importantes, decisivas, da transformação tanto externa quanto interna do ser social, através das quais esse último chega à forma que lhe é própria; ou seja, o homem deixa a condição de ser natural para tornar-se pessoa humana, transforma-se de espécie animal que alcançou um certo grau de desenvolvimento relativamente elevado em gênero humano, em humanidade. Tudo isso é o produto das séries causais que surgem no conjunto da sociedade. O processo em si não tem uma finalidade. Seu desenvolvimento no sentido de níveis superiores, por isso, contém a ativação de contradições de tipo cada vez mais elevado, cada vez mais fundamental. O progresso é decerto uma síntese das atividades humanas, mas não o aperfeiçoamento no sentido de uma teleologia qualquer: por isso, esse desenvolvimento destrói continuamente os resultados primitivos que, embora belos, são economicamente limitados; por isso, o progresso econômico objetivo aparece sempre sob a forma de novos conflitos sociais. É assim que surgem, a partir da comunidade primitiva dos homens, antinomias aparentemente insolúveis, isto é, as oposições de classe; de modo que até mesmo as piores formas de inumanidade são o resultado desse progresso. Nos inícios, o escravagismo constitui um progresso em relação ao canibalismo; hoje, a generalização da alienação dos homens é um sintoma do fato de que o desenvolvimento econômico está para revolucionar a relação do homem com otrabalho.
A individualidade já aparece como uma categoria do ser natural, assim como o gênero. Esses dos pólos do ser orgânico podem se elevar a pessoa humana e o ,gênero humano no ser social tão-somente de modo simultâneo, tão-somente no processo que torna a sociedade cada vez mais social. O materialismo anterior a Marx não chegou sequer a colocar o problema. Para Feuerbach, segundo a objeção crítica de Marx, há apenas o indivíduo humano isolado, por um lado, e, por outro, um gênero mudo, que relaciona os múltiplos indivíduos somente no plano natural. Tarefa de uma ontologia materialista tornada histórica é, ao contrário, descobrir a gênese, o crescimento, as contradições no interior do desenvolvimento unitário; é mostrar que o homem, como simultaneamente produtor e produto da sociedade, realiza em seu serhomem
algo mais elevado que ser simplesmente exemplar de um gênero abstrato, que~ o gênero - nesse nível ontológico, no nível do ser social desenvolvido - não é mais uma mera generalização à qual os vários exemplares se lìguem "mudamente"; é mostrar que esses, ao contrário, elevam-se até o ponto de adquirirem uma voz cada vez mais claramente articulada, até alcançarem a síntese ontológico-social de sua singularidade, convertida em individualidade, com o gênero humano, convertido neles, por sua vez, em algo consciente de si.
4
Como teórico desse ser e desse devir, Marx extrai todas as conseqüências do desenvolvimento histórico. Descobre que os homens se autocriaram como homens através do trabalho, mas que a sua história até hoje foi apenas a pré-história da humanidade. A história autêntica poderá começar apenas com o comunismo, com o estágio superior do socialismo. Portanto, o comunismo não é para Marx uma antecipação utópico-ideal de um estado de perfeição imaginada à qual se deve chegar; ao contrário, é o início real da explicitação das energias autenticamente humanas que o desenvolvimento ocorrido até hoje suscitou, reproduziu, elevou contraditoriamente a níveis superiores, enquanto importantes realizações da humanização. Tudo isso é resultado dos próprios homens, resultado da atividade deles. "Os homens fazem sua história", diz Marx, "mas não em circunstâncias por eles escolhidas". Isso quer dizer o mesmo que antes formulamos do seguinte modo: o homem .é um ser que dá respostas. Expressa-se aqui a unidade - contida de modo contraditoriamente indissolúvel no ser social - entre liberdade e necessidade; ela já opera no trabalho como unidade indissoluvelmente contraditória das decisões teleológicas entre alternativas com as premissas e conseqüências ineliminavelmente vinculadas por uma relação causal necessária. Uma unidade que se reproduz continuamente sob formas sempre novas, cada vez mais complexas e mediatizadas, em todos os níveis sócio-pessoais da atividade humana.
Por isso, Marx fala do período inicial da autêntica história da humanidade como de um "reino da liberdade", o qual porém "só pode florescer sobre a base do reino da necessidade" (isto é, da reprodução econômico-social da humanidade, das tendências objetivas de desenvolvimento à qual nos referimos anteriormente).
Precisamente essa ligação do reino da liberdade com sua base sóciomaterial, com o reino econômico da necessidade, mostra como a liberdade do gênero humano seja o resultado de sua própria atividade. A liberdade, bem como sua possibilidade, não é algo dado por natureza, não é um dom do "alto" e nem sequer uma parte integrante - de origem misteriosa - do ser humano. É o produto da própria atividade humana, que decerto sempre atinge concretamente alguma coisa diferente daquilo que se propusera, mas que nas suas conseqüências dilata - objetivamente e de modo contínuo - o espaço no qual a liberdade se torna possível; e tal dilatação ocorre, precisamente, de modo direto, no processo de desenvolvimento econômico, no qual, por um lado, acresce-se o número, o alcance etc., das decisões humanas entre alternativas, e, por outro, eleva-se ao mesmo tempo a capacidade dos homens, na medida em que se elevam as tarefas a eles colocadas por sua própria atividade. Tudo isso, naturalmente, permanece ainda no "reino da necessidade".
O desenvolvimento do processo de trabalho, do campo de atividade, tem porém outras conseqüências, dessa feita indiretas: antes de mais nada, o surgimento e a explicitação da personalidade humana. Essa tem, como base inevitável, a elevação das capacidades, mas não é sua simples e linear consecução. Aliás, é possível constatar que - no desenvolvimento até agora verificado - manifesta,se inclusive, entre os dois processos, uma freqüente relação de oposição. Uma oposição que se apresenta diversamente nas diferentes etapas do desenvolvimento, mas que se aprofunda à medida que esse se torna mais elevado. Hoje, o desenvolvimento das capacidades, que vão se diferenciando cada vez mais nitidamente, aparece inclusive como um obstáculo para o devir da personalidade, como um veículo para a alienação da personalidade humana.
Já com o trabalho mais primitivo, ,á adequação dos homens ao gênero deixa de ser muda. Todavia, no ,princípio e em sua imediaticidade, ela se torna apenas um ser-em-si: a consciência ativa do respectivo contexto social, economicamente fundado. Por maiores que sejam os progressos da
socialidade, por mais que seu horizonte se alargue, a consciência geral do gênero humano não supera ainda essa particularidade da condição do indivíduo e do gênero dada em cada oportunidade concreta.
Todavia, a elevação da adequação ao gênero jamais desaparece completamente da ordem-do-dia da história. Marx define o reino da liberdade como "um desenvolvimento de energia humana que é fim em si mesmo", como algo, portanto, que tanto para o homem individual quanto para a sociedade tem um conteúdo suficiente para transformá-lo em fím autônomo. Antes de mais nada, é claro que uma tal adequação ao gênero pressupõe um nível do reino da necessidade do qual, no presente momento, ainda estamos muito longe. Só quando o trabalho for efetiva e completamente dominado pela humanidade e, portanto, só quando ele tiver em si a possibilidade de ser "não apenas meio de vida", mas "o primeiro carecimento da vida", só quando a humanidade tiver superado qualquer caráter coercitivo em sua própria autoprodução, só então terá sido aberto 0 caminho social da atividade humana como fim autônomo. Abrir o caminho significa: . criar as condições materiais necessárias e um campo de possibilidades para o livre emprego de si. Ambas as coisas são produtos da atividade humana. A primeira, porém, é fruto de um desenvolvimento necessário, enquanto a segunda resulta de uma utilização correta, humana, do que foi produzido necessariamente. A própria liberdade não pode ser simplesmente um produto necessário de um desenvolvimento inelutável, ainda que todas as premissas de sua explicitação encontrem nesse desenvolvimento - e somente nele - suas possibilidades de existência.
É por isso que não estamos aqui diante de uma utopia. Com efeito, em primeiro lugar, todas as suas possibilidades efetivas de realização são produzidas por um processo necessário. Não é casual que já no trabalho, em seu primeiríssimo estágio, tenhamos dado tanto peso ao momento da liberdade na decisão entre alternativas. O homem deve adquirir sua própria liberdade através de sua própria atuação. Mas ele só pode fazê-lo porque toda sua atividade já contém, enquanto parte constitutiva necessária, também um momento de liberdade.
Aqui, porém, há muito mais. Se tal momento não se manifestasse ininterruptamente no curso de toda a história humana, se não conservasse nela uma perene continuidade, não poderia naturalmente desempenhar o papel de fator subjetivo nem sequer durante a grande virada. Mas a contraditória desigualdade do desenvolvimento sempre provocou tais conseqüências. Já o caráter causal das conseqüências das posições teleológicas faz que todo progresso surja ao ser como unidade na contradição de progresso e regressão.
Com as ideologias, tal fato não ,apenas é elevado à consciência (que freqüentemente ê uma falsa consciência) e tratado segundo os respectivos interesses sociais antagônicos, mas é igualmente referido às sociedades como totalidades vivas; aos homens com personalidades que buscam o seu próprio caminho verdadeiro. Por isso, em algumas importantes manifestações individuais, volta continuamente a se expressar a imagem - até agora sempre fragmentária - de um mundo de atividades humanas que é digno de ser assumido como finalidade autônoma. Aliás, é da maior importância constatar como, enquanto os novos ordenamentos práticos, que em seu tempo marcaram época, desaparecem da memória da maior parte da humanidade sem deixar traço, essas atitudes - na prática necessariamente vãs, freqüentemente condenadas a um fim trágico - conservam-se, ao contrário, como algo ineliminável e vivo na recordação da humanidade.
É a consciência da melhor parte dos homens, daqueles que, no processo da autêntica humanização, colocam-se em condições de dar um passo à frente com relação à maioria de seus contemporâneos; e é esse consciência que, a despeito de todo problema prático, empresta às manifestações desses homens uma tal durabilidade. Expressa-se neles uma comunhão de personalidade e sociedade que mira precisamente a essa adequação plenamente explicitada do homem ao gênero. Com a sua disponibilidade a empreender um progresso interior nas crises das possibilidades às quais o gênero chegou pelos caminhos normais, tais pessoas - nos momentos em que as possibilidades de uma adequação ao gênero para si são materialmente exploráveis - contribuem para produzi-la efetivamente.
A maior parte das ideologias estiveram e estão a serviço da conservação e do desenvolvimento da adequação ao gênero em si. Por isso, orientam-se sempre para a atualidade concreta, aparelham-se sempre de modo a corresponder aos variados tipos da luta atual. Mas apenas a grande filosofia e a grande arte (assim como o comportamento exemplar' de alguns indivíduos em sua ação) operam nessa direção, conservam-se espontaneamente na memória da humanidade; acumulam-se enquanto condições de uma disponibilidade: tornam os homens interiormente disponíveis para o reino da liberdade. E, antes de mais nada, temos aqui uma recusa sócio-humana das tendências que põem em perigo esse fazer-se homem do homem. O jovem Marx, por exemplo, viu no domínio da categoria do "ter" o perigo central. Não é um acaso que, para ele, a luta de libertação da humanidade culmine na perspectiva segundo a qual os sentidos humanos deverão se transformar em elaboradores de teorias. Assim, tampouco certamente é casual o fato de que, ao lado dos grandes filósofos, Shakespeare e os trágicos gregos tenham desempenhado um papel tão importante na formação espiritual e na conduta de Marx. (Nem tampouco a admiração de Lênin pela Apassionata é um episódio casual.) Aqui podemos ver como os clássicos do marxismo, ao contrário dos seus epígonos, todos dominados pela idéia da manipulação exata, jamais tenham perdido de vista o tipo particular de realizabilidade do reino da liberdade, embora tenham sabido avaliar - de modo igualmente claro - o indispensável papel de fundamento desempenhado pelo reino da necessidade.
Hoje, na tentativa de renovar a ontologia marxiana, deve-se dar igual importância a ambos os aspectos: a prioridade do elemento material na essência, na constituição do ser social, por um lado, mas, por outro e ao mesmo tempo, a necessidade de compreender que uma concepção materialista da realidade nada tem em comum com a capitulação, habitual em nossos dias, diante dos particularismos tanto objetivos quanto subjetivos.
O texto aqui traduzido, redigido no início de 1968 como base para uma conferência que deveria ser apresentada no Congresso Filosófico Mundial realizado em Viena (mas ao qual Lukács não pôde comparecer), foi publicado em 1969, em húngaro, sendo depois editado em alemão (1970) e em italiano (1972). O texto se baseia na chamada "grande" Ontologia, cujo manuscrito estava, na época, em fase de acabamento. Sabe-se, contudo, que - após a conclusão desse primeiro manuscrito e insatisfeito com seus resultados - Lukács empreendeu a redação de uma nova versão, conhecida como "pequena" Ontologia (ou também como Prolegômenos), na qual trabalhou até sua morte, ocorrida em junho de 1971 (Cf. István Eórsi, "The story of a posthumous work (Lukács Ontology)" in The New Hungarian Quarterly, XVI, n ° 58, Summer 1975, pp. 106-108). Apesar do seu caráter necessariamente sumário e esquemático, a presente conferência tem o mérito de fornecer uma síntese do trabalho ontológico de Lukács, além de ser um dos poucos textos relativos a este trabalho que o próprio autor revisou para publicação.
Tradução de Carlos Nelson Coutinho.